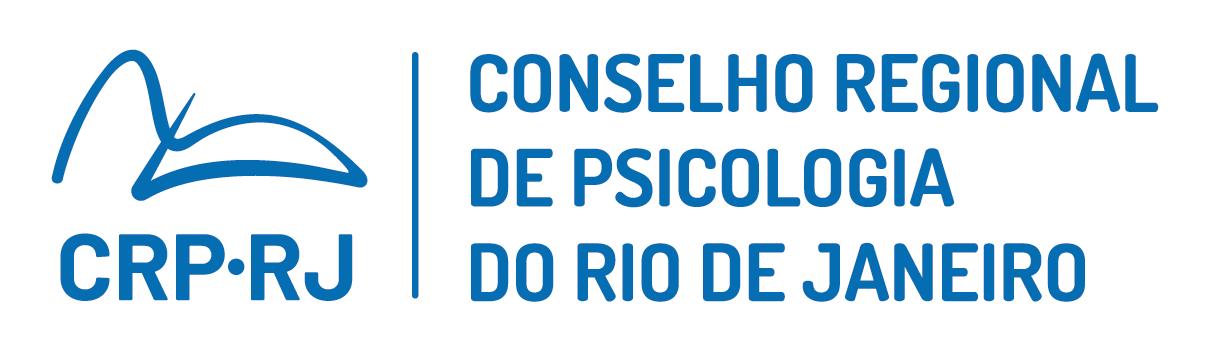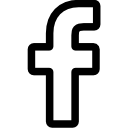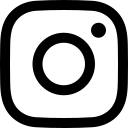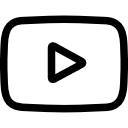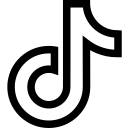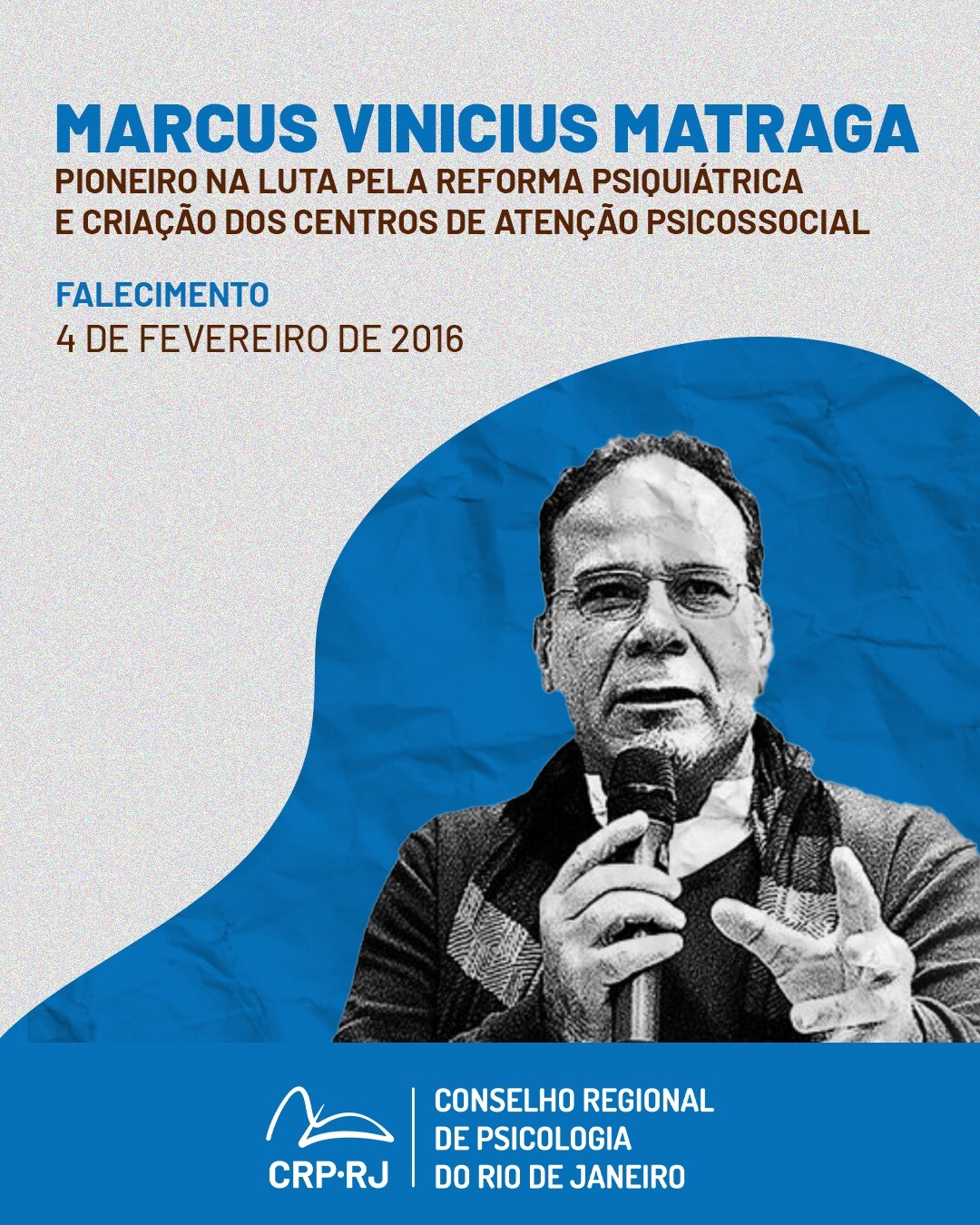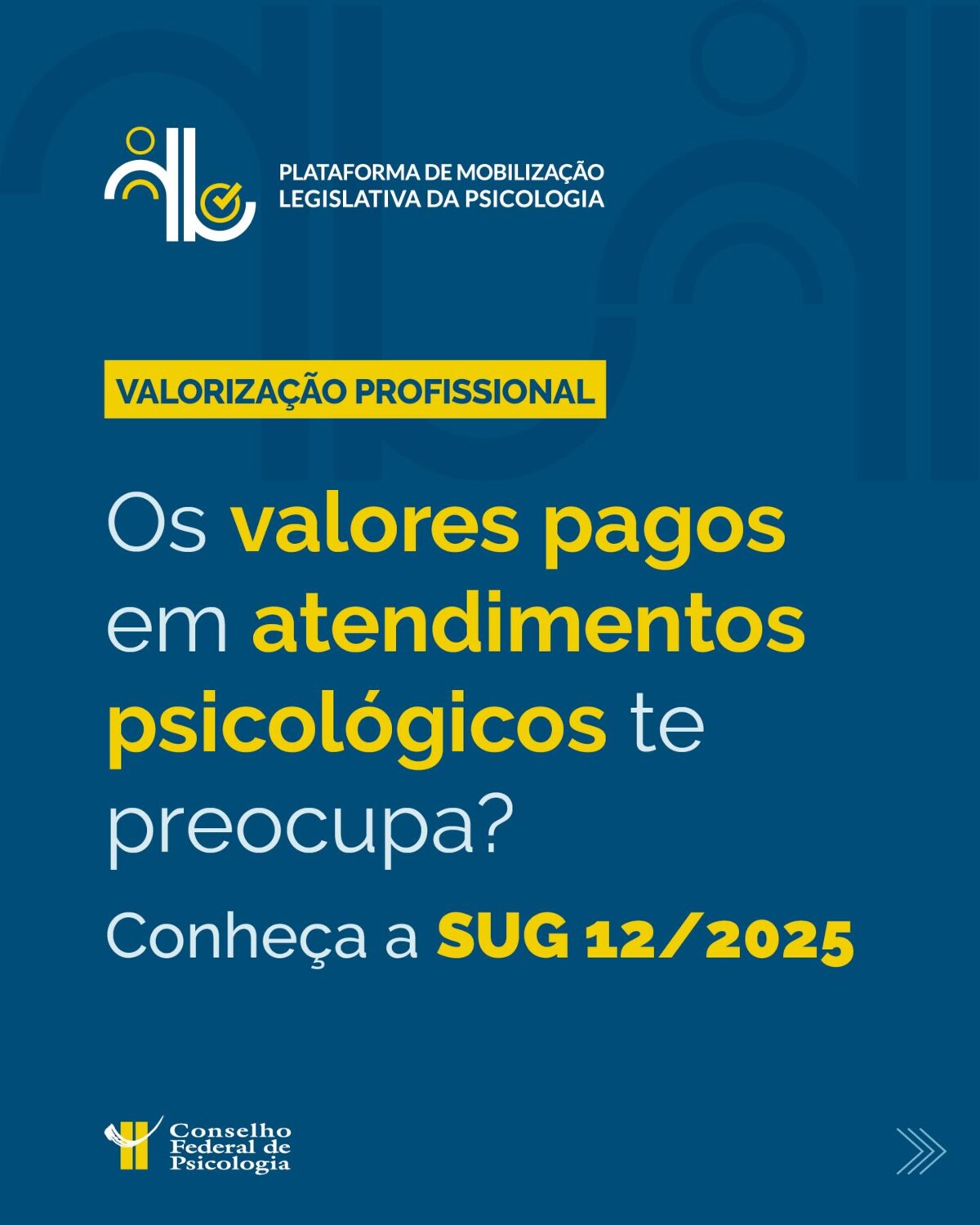Abrindo o segundo dia do X Seminário Regional de Psicologia e Direitos Humanos e IV Seminário de Psicologia e Políticas Públicas, e mediada pela conselheira-presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRP-RJ, Janne Calhau Mourão (CRP 05/1608), a mesa denominada “Estado Violador e Políticas Públicas Reparadoras” reuniu, em um debate fundamental, a cientista social Sabrina Moehlecke, a professora Heliana Castro Alves, do movimento “Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça”, e a psicóloga Karine Neves Mourão (CRP 05/28863).
Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas dos Sistemas Educacionais (GESED) e coordenadora acadêmica de extensão do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Sabrina Moehlecke introduziu sua apresentação abordando a historicidade de direitos e o desenvolvimento da ideia moderna de Direito e Estado, destacando o papel das declarações de direitos como elemento “limitador do poder do Estado”.
“Declarar, como nas primeiras declarações de direitos, que todos os homens nascem livres e iguais em direitos não é um dado histórico nem uma constatação da realidade. De fato, os homens não nascem nem livres, nem iguais. A efetiva garantia desses direitos é um processo contínuo, demorado e incerto, que vai depender dos movimentos de mobilização social criados em torno deles”, definiu Moehlecke, enfatizando ser este o primeiro aspecto da construção de direitos na sociedade a se tomar como horizonte.
Segundo a pesquisadora, o direito à liberdade foi o primeiro a ser consagrado pelo fato de as primeiras declarações do mundo moderno valorizarem “uma concepção de sociedade na qual o indivíduo tinha precedência em relação ao Estado”. Excluídos das primeiras declarações de direitos, índios, escravos e povos colonizados foram excluídos também da categoria de cidadãos, pois “entendia-se que eles não partilhavam da natureza humana dos chamados homens”. O mesmo ocorreu com as mulheres, que, “tidas como incapazes, quando comparadas às crianças, no uso da razão, e proibidas de participar de decisões políticas”, não eram consideradas cidadãs.
Moehlecke também abordou o que chamou de “postura passiva do Estado”, do qual se reivindica que não interfira no direito de liberdade e de organização política dos indivíduos, e distinguiu direitos políticos e civis, “bases fundantes dentro de uma relação entre a demanda do Estado e a não interferência no exercício desses direitos”. Entre os primeiros, citou o direito à igualdade perante a lei, liberdade de ir e vir, de não ser discriminado por motivo de cor, raça, classe social, sexo, gênero ou religião, e ao julgamento justo. Do segundo grupo, citou o direito à livre expressão e associação, o de voto, o de ser representado e de representar.
Algumas das transformações ocorridas no decurso da História devido a conquistas de movimentos sociais, trabalhistas e feministas, segundo a pesquisadora, foram responsáveis por proporcionar “uma nova relação do indivíduo com o Estado, que deixa de ter uma postura ‘passiva’” para adotar uma “postura ativa”. “Tivemos, no final do século XIX e início do século XX, [reivindicações por] um conjunto de direitos sociais e econômicos, como o direito à educação, ao trabalho, à saúde, a uma vida digna, moradia, lazer, proteção à infância e assistência a desamparados”, descreveu, enfatizando não tratar-se de “um quadro de realidade”, mas de “uma construção histórica”, visto que os referidos direitos “entram como demandas, mas sua efetividade depende também da relação desses direitos do Estado com a sociedade e a mobilização dentro desta sociedade”.
Ela abordou ainda os chamados “novos direitos”, reivindicados durante o século XX, sendo “um conjunto de direitos um pouco mais complexo, mas que continua exigindo do Estado uma postura mais ativa”, com um envolvimento maior na garantia dos direitos chamados coletivos – que abarca os direitos civis, os políticos, e também os sociais e econômicos, que devem contemplar toda a coletividade, nãos e restringindo a indivíduos ou grupos específicos, como o direito ao meio ambiente, à qualidade de vida saudável, à autodeterminação dos povos, à diversidade cultural, ao progresso e à paz.
Como possibilidades de políticas públicas que atendam às demandas específicas por direitos, ela elencou três modelos. As políticas compensatórias são aquelas que visam atender a direitos sociais e econômicos, a partir da carência socioeconômica de membros de um determinado grupo, sem levar em conta os motivos de tal carência. “Tem-se uma desigualdade socioeconômica e elabora-se uma política que vá garantir uma equidade de oportunidades para esse grupo, independente dos motivos dessa desigualdade”, explicou a cientista social. É o caso, por exemplo, do “Bolsa Família”.
Já as políticas reparatórias são aquelas elaboradas a partir, justamente, da motivação de uma determinada questão social, incluindo “como beneficiários de seus programas todos os membros do grupo considerado prejudicado, discriminado ou excluído”, segundo Moehlecke. São políticas voltadas, portanto, à reparação de danos causados por uma determinada situação, como, por exemplo, as reinvindicações de judeus, devido ao Holocausto promovido pelo Nazismo, e as dos negros brasileiros, devido à escravidão.
Por último, a cientista social abordou as políticas de ação afirmativa, que objetivam “promover a representação de pessoas pertencentes a grupos que têm sido historicamente subordinados ou excluídos de determinados espaços da sociedade, como empregos ou escolas e universidades”, sendo um exemplo deste modelo de política o sistema de cotas universitárias para negros e estudantes de escolas públicas. A política afirmativa, segundo a pesquisadora, pode ser sintetizada como uma “ação reparatória, compensatória ou preventiva, que busca corrigir uma situação de discriminação e desigualdade” de que certos grupos são vítimas, historicamente.
“Nosso dever de memória é também nosso direito de memória”
Representado pela segunda palestrante, professora Heliana Castro Alves, o movimento “Filhos e Netos por Memória Verdade e Justiça” luta justamente por políticas reparatórias, baseadas nas gravíssimas violações de direitos humanos praticadas por militares no período da Ditadura Militar que, instaurada a partir do Golpe de 1964, banhou de sangue o país, especialmente de 1968 em diante, com perseguições, sequestros, torturas, assassinatos e ocultações de cadáveres de opositores políticos – aqueles que lutaram contra o regime e em defesa da democracia.
Independente, sem qualquer vinculação partidária e composto por familiares de vítimas da Ditadura, o movimento realiza atos políticos, combate a violência de Estado e desenvolve projetos ligados à luta por memória, verdade e justiça. Sua origem está ligada ao projeto piloto Clínicas do Testemunho – Rio de Janeiro, da Comissão de Anistia/MJ, criado em 2012 com o objetivo de incluir no direito à reparação de vítimas, no escopo da Justiça de Transição, o atendimento psicológico aos afetados pelas de violações de direitos fundamentais praticadas entre 1946 e 1988.
“Os filhos e netos carregam a dor, carregam marcas do terror a que foram submetidos seus pais e avós”, introduziu Alves, cujos pais foram presos políticos, torturados nos porões da Ditadura. “Não é possível avançar na História sem o justo lugar desta memória, da nossa memória. O nosso coletivo carrega, assim, um dever de memória, de transmissão dessa história vivenciada por nós, por nossos pais e avós, para responsabilizar o Estado pelos efeitos transgeracionais [da violência praticada] e fazer justiça. Nosso dever de memória é também nosso direito de memória”, ressaltou a docente do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e doutoranda pelo programa EICOS – Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Para ela, da mesma forma que não se pode dimensionar “os efeitos do horror praticado pelos aparelhos repressores”, também as indeléveis marcas deixadas pelo horror nas gerações seguintes não podem ser dimensionadas. “As gerações de afetados pela Ditadura, de alguma forma, testemunharam, vivenciaram o clima de terror e de perseguição, ou sofreram diretamente a violência praticada pelo Estado, e vivem hoje a ausência de justiça, de memória e de verdade”, disse a militante, referindo-se à falta de informação sobre o período e ao fato de militares dos órgãos de repressão não terem sido, até hoje, responsabilizados criminalmente por seus crimes. “Se a Ditadura Militar tinha como objetivo perpetuar a violência entre gerações, então nossa luta também é transgeracional”, continuou.
“É muito comum, nos relatos, entre a segunda geração de afetados pela Ditadura Militar, a sensação de memórias fragmentadas, de uma vida descontinuada, interceptada, uma dificuldade de vinculação, de redes sociais, pelo fato de ter acompanhado tantas vezes os pais no exílio. Nós acompanhamos nosso pais no exílio, na clandestinidade. Tivemos memórias fugidias, e nossa vida social, como escola, trabalho e família, foi completamente interceptada. Muitas vezes tivemos nossas famílias desamparadas, com nossos pais desaparecidos. Algumas vezes, passamos fome”, relatou a professora, mencionando ainda o fato de alguns dos militantes terem sido violentados também sexualmente por militares.
“Nós não falamos sobre isso durante quase 40 anos. E esse silêncio precisa ser quebrado, esse silêncio precisa ser quebrado. E é por essas memórias fragmentadas, silenciadas, doloridas, por essas vidas descontinuadas, que nós precisamos de reparação”, defendeu a militante. “Quando a gente fala em reparar um dano, o que seria realmente capaz de reparar essa barbárie? Falar em política de reparação nos parece uma ação impossível. Nada vai apagar da nossa memória o que aconteceu aos que se confrontaram diretamente com os aparelhos repressores da Ditadura. Mas a nossa memória já foi silenciada por mais de 30 anos, e um país sem memória é um país sem passado”, completou, destacando que este tem sido o esforço do movimento de filhos e netos.
Ela lamentou a falta de informação sobre o período, que, decorrente do silenciamento e da negligência dos militares, que escondem documentos e queimaram arquivos, favorece a impunidade. Por isto, segundo a docente, uma das ações do grupo militante é a de “levar às salas de aula o que os livros de História não contam”. “Somente através de um olhar completo sobre o que aconteceu, um olhar que dê voz aos que vem sendo amordaçados, trazendo à tona as atrocidades cometidas, é que podemos construir uma sociedade democrática baseada em justiça”, encerrou Heliana.
À margem do agronegócio, campesinato permanece invisibilizado, apesar de sua importância social e econômica para o país
Última a palestrar, a psicóloga Karine Neves Mourão (CRP 05/28863) voltou sua apresentação às violações de direitos do campesinato, chamando a atenção para a relação da psicologia com a questão e para o fato de esta não ser ainda discutida com profundidade pela categoria. “70% do que a gente come é produzido pelos camponeses e camponesas, que são invisibilizados”, introduziu Karine, dando o tom da crítica que seguiu desenvolvendo ao longo de sua apresentação.
Numa explanação didática, a palestrante distinguiu o agronegócio da agricultura camponesa, destacando que, enquanto o agronegócio se baseia no uso intensivo de agrotóxicos e de sementes transgênicas, no monocultivo e em grandes extensões de terras (latifúndios), focando na produção de commodities – que se converte em lucro somente para as poucas empresas transnacionais que dominam o setor de alimentos restrito ao milho, à soja e à celulose –, a agricultura familiar se fundamenta na produção diversificada de alimentos, na utilização da força de trabalho familiar e da mútua ajuda, no uso sustentável dos recursos naturais, de práticas agroecológicas e das chamadas sementes crioulas – que são mantidas e selecionadas, durante décadas, por agricultores tradicionais (agricultura familiar).
“Para o agronegócio se sustentar e se expandir, ele concentra terras, expulsa os camponeses e camponesas do campo, e não produz para abastecer o mercado interno de agrícolas”, criticou a psicóloga. “Ele detém 76% das melhores terras brasileiras, recebe 86% dos créditos reservados para agricultura, mas só produz 30% da comida e só emprega 26% da mão-de-obra ocupada no campo”, continuou, apontando a seguir o contraste com os dados que envolvem a agricultura camponesa: “Mesmo acessando 14% dos créditos direcionados à agricultura e ocupando 24% das terras agricultadas no Brasil, é responsável por 70% da produção de comida e gera muito mais emprego que o agronegócio, utilizando 74% da mão-de-obra ocupada no campo”, detalhou ela, apresentando um gráfico com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, situado “na margem, na periferia do agronegócio”, nas palavras de Karine, o campesinato é invisibilizado, a despeito de sua importância social e econômica.
A palestrante passou, em seguida, à questão da violência do agronegócio contra o campesinato. Composta por movimentos sociais de camponeses, pesquisadores e pessoas ligadas à questão agrária camponesa, foi a criada, em 2012, a Comissão Camponesa da Verdade, cujo relatório registrou 1.196 camponeses mortos e desaparecidos no período de 1946 a 1988, sendo oficialmente reconhecidos apenas 432 camponeses.
“A transição democrática não foi capaz de acabar com as várias violações de direitos sofridos pelos camponeses e camponesas. Como esse Estado, que matou e torturou camponeses, viola os direitos do campesinato atualmente? Através da violência do agronegócio”, criticou a psicóloga, que passou um fragmento do documentário “O veneno está na mesa” (2011), dirigido pelo cineasta Silvio Tendler, em que a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Katia Abreu, afirma que há “milhares de brasileiros que ganham salário mínimo, ou não ganham nada, e que, portanto, precisam comer comida com defensivo, sim, porque é a única forma de se fazer um alimento mais barato”, entre outros absurdos. “‘Defensivo’ é um eufemismo para ‘veneno’, ‘agrotóxico’, e o que ela fala é que ‘pobre tem que comer veneno mesmo’. Isso significa que o alimento orgânico seria para rico e o envenenado, para pobre”, disse a palestrante, enfatizando que isso viola os direitos de camponeses, dos quais 50% vivem em condições miseráveis, e da população das cidades, que ingere alimentos com agrotóxicos.
A imposição do modelo agroalimentar, segundo ela, “faz com que cada brasileiro e brasileira consumam, em média, 7,3 litros de veneno por ano”, no país que é, desde 2008, carrega o triste título de “maior consumidor de agrotóxicos do mundo”. Além disso, 15 dos 50 agrotóxicos mais usados no Brasil são proibidos na Europa, de acordo com Karine, que destacou ainda a conivência do Estado com o agronegócio, tanto pelo uso da força policial contra camponeses, quanto pelos elevado investimento no modelo agroalimentar, em contraste com o baixo investimento no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo). A resistência de camponeses organizados, tanto no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) quanto no Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), para permanecer no campo, envolve a defesa de “melhorias de condições da vida no campo e produção de alimentos saudáveis para o povo brasileiro”, como propõe o Plano Camponês, do MPA, segundo a palestrante.
“O alimento sem veneno, produzido de forma agroecológica, não tem que ser consumido somente por quem tem dinheiro para comprar o limão a um real a unidade, como temos visto em certas feiras orgânicas do Rio de Janeiro. Pobre não tem que comer veneno, como disse a nossa atual ministra da agricultura. É direito de toda e qualquer pessoa a alimentação saudável, e não o alimento que comprometa a sua saúde”, defendeu Karine, taxativa.
“A violência do agronegócio tem características semelhantes àquelas do período da Ditadura Militar, como o assassinato de camponeses”, disse a psicóloga, lembrando históricos massacres de camponeses, como o de Corumbiara (RO), que matou 12 camponeses em 1995, e o de Eldorado dos Carajás (PA), que resultou na morte de 19 integrantes do MST pela Polícia Militar, em 1996. “Há uma relação direta entre o aumento da violência no campo e a concentração de terra, que vem aumentando a cada ano, apesar dos assentamentos e da pressão dos movimentos sociais pela desapropriação de latifúndios improdutivos”, disse. “Outra forma de violência é a expulsão de camponeses, povos tradicionais, indígenas, de suas terras, para projetos direta ou indiretamente vinculados ao agronegócio. E expulsar uma pessoa de sua terra, é como arrancar um pedaço de seu corpo”, completou.
Dezembro de 2015